Segunda de Carnaval e nossa série “Mágico, fantástico, lendário” continua! Já falamos de quatro obras baseadas em antigos contos folclóricos que têm algo em comum, além do clima sobrenatural: o fundo moralizante.
Se fosse eu um antropólogo/sociólogo, poderia discorrer sobre a necessidade social do “reforço negativo” e de historinhas no modelo alerta-desobediência-punição. Mas prefiro lembrá-los da figura sempre exemplar de J. Walter Weatherman. ;-)
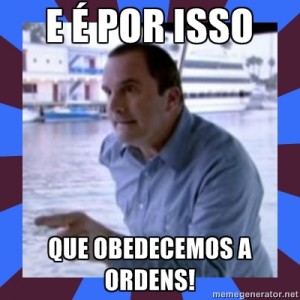
Não há lição que não possa ser aprendida com o auxílio de um braço falso.
Engraçado notar que as duas primeiras obras de nossa série, ambas óperas, terminam relativamente bem: a mocinha não morre com o tiro amaldiçoado do franco-atirador e o holandês aparentemente safou-se da maldição graças à fidelidade post-mortem de Senta. Acho que finais inteiramente trágicos não pareciam muito auspiciosos para os produtores de ópera da época – bom, não são até hoje para Hollywood, vide Spielberg.
Mas será que na sala de concertos tudo é possível? O público dos concertos seria MACHO PACAS, então por isso Franck e Dukas se sentiram bastante à vontade para fazerem os protagonistas de seus poemas sinfônicos se darem mal? Sei lá. O fato é que os compositores de música instrumental tinham muito menos dó de seus personagens e podiam puni-los à vontade por suas transgressões.
A obra de hoje traz essa super crueldade típica das manifestações populares: trata-se de “O espírito das águas”, poema sinfônico composto por Antonín Dvorák em 1896. Dvorák usou, como base desta e de outras três peças, poemas da coletânea “Um ramalhete de lendas populares” do poeta tcheco Karel Erben, publicada em 1853. O livro de Erben, composto de treze baladas adaptadas de contos populares boêmios, é um clássico em seu país. Serviu de base para um monte de peças de teatro, filmes e obras musicais – entre elas as de Dvorák.
Quase todas as lendas do “Ramalhete” são incrivelmente soturnas e cruéis. E eram lidas para/por crianças! Sabe aquele terrorzinho básico que os pais gostavam de incutir nos filhos até poucas décadas atrás? Pois então. Hoje, tudo que é feito para o público infantil é cuidadosamente “edificante”; à época podia ser francamente traumatizante, sem nenhum pudor.
O primeiro dos poemas sinfônicos que Dvorák compôs sobre o “Ramalhete” é este “O espírito das águas”. A historinha tem como personagens principais uma mocinha, sua mãe e o próprio Espírito das Águas – um ser repugnante que mora no fundo de um lago e que mata desavisados para guardar suas almas em xícaras viradas (tá aí a explicação mítica para afogamentos). Muito resumidamente: a mocinha não liga para os alertas da mãe e vai ao lago. Termina, claro, capturada pelo Espírito das Águas, que a torna esposa e mãe de seu filho.
O tempo passa, numa vida triste no fundo do lago. Pois que um dia a mocinha pede permissão ao Espírito para visitar a mãe. Ele consente, desde que ela deixe o filho com ele e que volte antes das oito horas. Claro que ela perde o horário, o que enfurece o Espírito, que vai à caça de sua esposa. Em uma cena assustadora, o Espírito trava um baita duelo com sua sogra – que não queria deixar a mocinha voltar para o lago – e acaba matando o próprio filho como punição a ambas.
Duplo crime, duplo castigo. De uma lenda sombria e sanguinolenta, Dvorák criou uma música de imenso poder evocativo e de maravilhosa engenharia. Toda a peça é baseada no insidioso tema do Espírito, que não só inicia a obra como lhe fornece o motor rítmico geral – os “saltitos” característicos. Os temas da mocinha e sua mãe, e depois o tema da criança, são comoventes. As sobreposições que Dvorák faz, mesclando os motivos para representar as diversas passagens da história, são impressionantes. E o final é avassalador.
“O espírito das águas” é um dos poemas sinfônicos mais incríveis do século 19. Se é muito menos conhecido do que deveria, culpa nossa. Comece sua redenção agora: é só clicar :)
Ah, sim, claro! O Leonardo T. Oliveira, do Euterpe, escreveu um artigo fabuloso explicando detalhe por detalhe desta obra-prima. Vale conhecer a peça toda e depois ler o post dele com calma – tenho certeza de que vários detalhes preciosos vão ser revelados!